Créditos da imagem: AP/Arquivo
Nos 50 anos do tricampeonato mundial, a seleção de 1970 se firmou como um orgulho e uma maldição. Orgulho, por motivos óbvios. Foi a consagração definitiva de Pelé, agora como líder do grupo e sem a lesão que o tirou de quase toda a Copa de 1962. Foi também a confirmação do nível extraordinário que o esporte das multidões produziu nos anos 1960 – e que não se repetiria na década seguinte, ao menos com o mesmo brilho. Mas, por outro lado, foi a deixa para dois males que assolam nossa visão futebolística até hoje: a arrogância ufanista e o saudosismo impiedoso com quem veio depois, sem poupar sequer os que levantaram a nova taça – a outra nós ganhamos em definitivo e deixamos roubarem.
A campanha do México mostrou um futebol técnica e taticamente adiantado. Para os padrões da época, um banho de dinamismo e equilíbrio. Mas o mundo seguiu girando e trocando experiências, enquanto o Brasil preferiu se fechar. Não tínhamos que aprender nada com ninguém, diziam. Mesmo os momentos de modernidade tiveram fontes internas. Testar novidades da Europa, ou mesmo dos vizinhos sul-americanos, era um sacrilégio. Técnico estrangeiro, nem se fala. Nem adiantava lembrar que o 4-2-4 de 1958 era baseado no trabalho do húngaro Bela Gutmann no São Paulo. Ganhamos porque com brasileiro não há quem possa. Simples assim. Os outros precisavam de táticas para obter o que o Brasil fazia batendo bola na rua. Com o êxodo dos brasileiros para o futebol europeu, surgiu até uma nova desculpa para as Copas perdidas: deviam ter levado só jogador daqui. Humildade à brasileira.
Mas, afinal, o Brasil ganhou mais duas Copas com titulares predominantemente do futebol europeu, certo? Nem tanto. Na fantasia de parte da crônica esportiva, o Brasil ainda é tri, não penta. Simplesmente porque não foi o penta, muito menos o tetra que sonhavam ver. A desordem cronológica se deve ao fato de que nenhum jogador encarnou a contrariedade com a vitória que Dunga. Nem a quantidade de desarmes passes certos, incluindo uma assistência a Romário, ou mesmo o pênalti que jogou o mundo nas costas de Baggio, aplacaram a frustração de vê-lo repetir o gesto de Carlos Alberto Torres. Pode-se dizer que as mágoas do próprio Dunga (incluindo o “fotografa essa p…” com a taça) não ajudaram muito, mas tampouco recontam quem iniciou a relação tormentosa. Restou a falácia atenuante de que Romário ganhou a Copa sozinho. Assim como os três Rs em 2002.
É difícil aceitar que, não só para o futebol brasileiro, o passado das Copas do Mundo será sempre mais bonito. Junta-se o saudosismo com uma dose de realidade. A Copa deixou de ser o suprassumo do futebol, há pelo menos duas décadas. Os clubes tomaram este papel. Primeiro, com a mudança de leis sobre estrangeiros, que permitiram a montagem de seleções mundiais. Segundo, porque os torneios de clubes incharam de tal forma que, quando chegam os torneios de seleções, os atletas estão desgastados e sem tempo para entrosar. Num confronto hipotético entre a campeã da Copa do Mundo com o vencedor da Champions League, este seria o favorito. Não teria como acontecer em 1970. Tanto pela qualidade técnica quanto pelos meses de preparação – no lugar de três semanas de treinamentos a conta-gotas, para não estourar os jogadores.
O efeito dos sonhos deste cinquentenário deveria ser louvar a seleção de 1970 pelo muitíssimo que significou, mas jogar fora o fardo que isso representa. Aceitar que temos não a copiar, mas aprender com o que é feito em outros lugares. Inclusive na parte técnica, já que faz muito tempo que não temos um meio-campista ou um centroavante entre os craques mundiais. Reconhecer que tivemos outras grandes seleções, algumas ganhando e outras perdendo. Os tempos de 1970 não voltam mais. Que bom que não voltam mais. Museus existem para ser visitados. Não habitados.
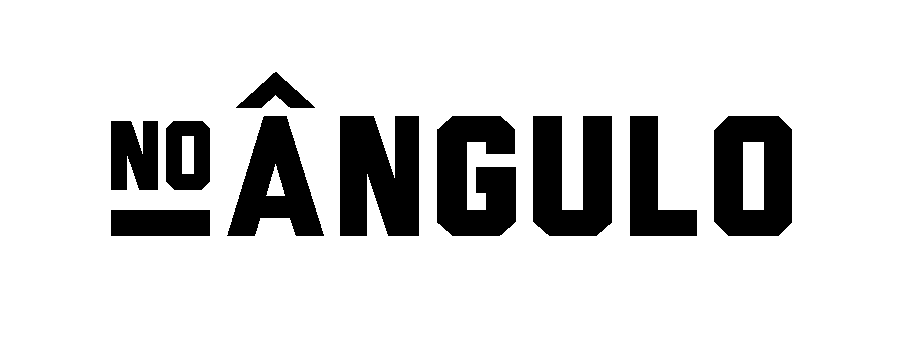




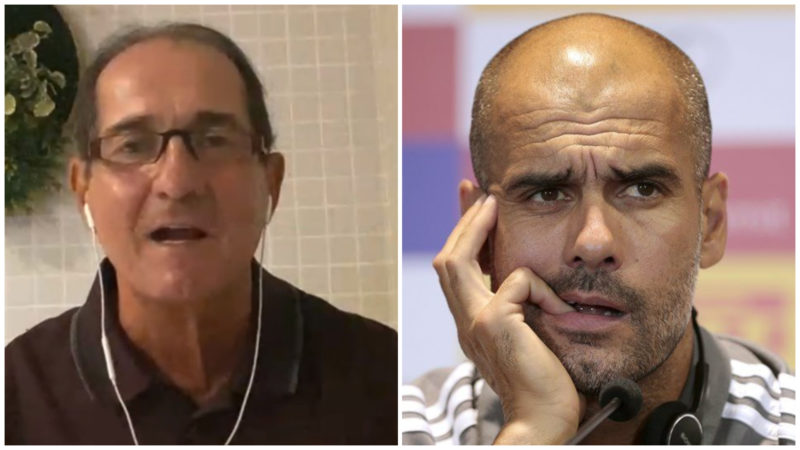









Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?